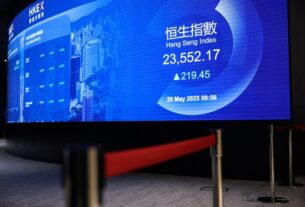Há 20 anos as torres gêmeas do World Trade Center vinham abaixo. E com elas, a ideia de mundo tal qual a conhecíamos
Publicado: 10/09/2021
Por: Marcello Rollemberg
Arte: Simone Gomes
Nova York, dia 11 de setembro de 2001, por volta das 8 horas da manhã. Os irmãos documentaristas canadenses Jules e Thomas Naudet começavam mais um dia de filmagens de um documentário sobre um bombeiro iniciante – um probie, como são chamados por lá os calouros na luta contra o fogo – em um quartel do New York Fire Department, no sul de Manhattan. Um alarme de vazamento de gás no extremo sul da ilha soou no quartel e lá foram os bombeiros para o local. Jules Naudet foi junto. Nova York, por volta das 8h45. Os bombeiros buscam o tal vazamento de gás, enquanto Jules filma sua ação, quando todos ouvem um som muito alto de avião – que estava voando baixo demais para o que o bom senso e as normas aeronáuticas recomendariam. Instintivamente, o documentarista levanta a câmera e capta a imagem que iria, mais tarde, correr o mundo. O relógio marcava 8h46 e a câmera de Jules Naudet foi a única a registrar o impacto do Boeing do voo 11 da American Airlines, com 76 passageiros e 11 tripulantes, contra a Torre Norte do World Trade Center. Um acidente, alguns puderam pensar. Mas a dúvida – que serviria para acalentar espíritos mais inquietos – foi logo dissipada. Dezessete minutos depois, às 9h03, quando todas as câmeras de TV do mundo já estavam mirando o WTC, o voo 175 da United Airlines, com 51 passageiros e nove tripulantes, explodiu ao entrar bem no meio da Torre Sul. Não, não era um acidente. Até porque, às 9h37, o voo 77 da American Airlines, com 59 pessoas a bordo (53 passageiros e seis tripulantes) acertava em cheio uma das pontas do Pentágono, nos arredores de Washington. Aviões não caem a esmo no Pentágono, o símbolo do poderio militar americano, nem batem desordenadamente nas torres do WTC, o representante maior da pujança econômica dos Estados Unidos, inaugurado em 1973. Não, não era mesmo um acidente. Não passou nem perto disso.

O ataque ao Pentágono, em Washington – Foto: Kostenloses -Pixabay
Os Estados Unidos estavam sendo atacados – America under attack, anunciaram freneticamente as chamadas dos telejornais americanos. Em pouco menos de uma hora, os Estados Unidos sofreram o pior ataque da história em seu território, com 2.977 mortos – mais do que em Pearl Harbor, na Segunda Guerra. Morreram também os 19 sequestradores suicidas da Al-Qaeda, que planejou com precisão cirúrgica, midiática e alucinada os ataques. Aquele dia, 11 de setembro de 2001, foi o dia em que a Terra parou. E quando voltou a girar, o mundo estava se preparando para ser outro, bem diferente daquele que começou como um dia qualquer de fim de verão no Hemisfério Norte, com um céu azul nova-iorquino que em nada poderia antecipar o que aconteceria. O mundo – e não só os Estados Unidos – foi colocado a fórceps no século 21, com todas as consequências que viriam.
Duas décadas depois, o que ficou do 11 de Setembro? O dia se tornou mítico e as cenas das duas torres ruindo, também. Todo mundo com idade suficiente para entender o que estava acontecendo e que ouviu pelo rádio, viu pela TV, acompanhou pela internet ou leu nos jornais sabe o que estava fazendo naquele dia, naquela hora. E sabe o que sentiu. O Jornal da USP, ainda em sua versão impressa, colocou na capa: “O horror que veio do céu”. Na matéria principal a respeito do ataque, titulou: “A maçã no escuro”, uma simbiose entre um título poético de livro de Clarice Lispector e o terror de fumaça, fogo e poeira que veio do ataque e da queda das torres gêmeas, uma das principais marcas do skyline de Nova York, daquela Grande Maçã – a Big Apple – que a música diz que nunca dorme. E que, depois daquele dia, demorou muito para pregar os olhos com tranquilidade outra vez. E que mundo surgiu no dia 12 de setembro de 2001 e viveu todos esses anos?
“Com a extinção da União Soviética e o final da Guerra Fria, a década de 1990 representou um fortalecimento do multilateralismo e da cooperação internacional, com clara hegemonia norte-americana. O atentado de 2001, em 11 de setembro, acarretou o enfraquecimento desse movimento e o advento de um quadro de fragmentação na política internacional, que segue nos tempos atuais”, avalia o professor Pedro Dallari, do Instituto de Relações Internacionais da USP (IRI-USP) e colunista da Rádio USP.
Muito dessa fragmentação à qual se refere o professor Dallari se deve à ação de retaliação que o então presidente George W. Bush empreendeu mundo afora após os atentados. Pego de surpresa com um livro infantil nas mãos – ele visitava uma escola na hora dos ataques –, Bush ficou alguns segundos com o olhar perdido e com um ar mais perplexo do que de costume. Quando voltou a si, resolveu começar a caça às bruxas – ou ao terror, representado pela Al-Qaeda e seu líder, Osama Bin Laden, e a todos que minimamente pudessem ter algo a ver com aquele horror todo. E foi atrás dos suspeitos de sempre: Saddam Hussein, o todo-poderoso governante do Iraque e inimigo mundial número um – disputando o posto com Khadafi, da Líbia – e o Afeganistão, dos extremistas talibãs. Saddam teria armas de destruição em massa escondidas em alguma duna de areia no deserto iraquiano. E os afegãos davam guarida a Bin Laden e seus homens-bombas. Deu no que deu.

Osama Bin Laden – Foto: Flickr
Saddam foi derrubado em 2003, depois da invasão americana, e enforcado em 2006 e o Iraque virou uma armadilha explosiva da qual os Estados Unidos penaram para se livrar. E, claro, não havia nenhuma arma de destruição em massa. E o Afeganistão… bem, o Afeganistão, 20 anos depois, está de volta às mãos do Talibã, com os Estados Unidos tentando dizer que a partida terminou empatada. Já Osama Bin Laden demorou para ser pego. O grande artífice dos ataques aos Estados Unidos e seus símbolos mais perenes – havia um quarto avião, o voo 93 da United, que, acredita-se, deveria cair sobre o Capitólio, o símbolo político, e foi derrubado pelos passageiros – só foi morto por forças especiais americanas em maio de 2011, já no governo do sucessor de Bush, Barak Obama. E no Paquistão. As torres haviam caído havia quase dez anos, e tudo já era parte da história. Mas uma história em moto-contínuo.

O então presidente George W. Bush discursando em cerimônia no Pentágono, em 2008 – Foto: The U.S.A Army
O professor Felipe Loureiro, também do IRI e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, da USP, segue no mesmo diapasão de Pedro Dallari. Para ele, houve, após o 11/9, uma fragilização de um dos organismos internacionais mais importantes para garantir a paz e a cooperação mundial – a Organização das Nações Unidas. “A fragilização da ONU é um produto da guerra ao terror, principalmente depois da intervenção americana ao Iraque, que acontece com seu aval. E isso acabou tendo efeito na capacidade da ONU em atuar em outras crises internacionais, como a crise na Líbia e a guerra civil na Síria. Há um conjunto de elementos, mas me parece que o início simbólico desse processo foi exatamente a intervenção no Iraque, a despeito de o Conselho de Segurança da ONU não ter aprovado explicitamente essa ação”, acredita Loureiro.
Divisor de águas

World Trade Center antes do ataque de 11 de setembro de 2001 – Foto: Pixabay
“Os ataques de 11 de setembro foram um claro divisor de águas nas relações internacionais. Os Estados Unidos, vistos quase como onipotentes no sistema internacional, mostraram uma fragilidade na sua segurança interna. E devido a um ator que poucos poderiam imaginar que seria capaz de fazer o que fez. Então, em um primeiro ponto, os Estados Unidos, mesmo sendo ainda a grande e única potência global, mostram uma fragilidade inédita aos olhos do mundo”, afirma o professor Felipe Loureiro. “Já a reação americana aos ataques é a de uma superpotência que se considera capaz de moldar, de uma maneira quase que ampla e total, o sistema internacional. É uma reação bastante significativa e com uma perspectiva de guerra ilimitada ao terror, com os Estados Unidos ainda querendo demonstrar sua onipotência”, destaca ele.
Mas o que essas e outras ações representaram, ao longo dessas duas décadas? Os Estados Unidos e o mundo como um todo foram se moldando à nova realidade, às novas perspectivas, a uma nova história que estava sendo escrita. “No caso dos Estados Unidos, a forma como o país respondeu aos ataques terroristas acabou ajudando a ampliar uma xenofobia dentro da sociedade norte-americana. Principalmente focada contra árabes, não necessariamente islâmicos, e comunidades islâmicas, não necessariamente árabes. Essa xenofobia é importante para entendermos o crescimento da extrema direita nos Estados Unidos. Não é o único elemento, mas deve ser considerado importante nesse avanço extremista nos Estados Unidos. O próprio presidente Obama, em sua primeira eleição, foi muito atacado por sua suposta ascendência árabe. E é uma xenofobia que parte de uma perspectiva muito simplista de se entender as comunidades árabes e islâmicas, totalizando o radicalismo”, afirma Loureiro.

Militares americanos em patrulha no Afeganistão, em guerra declarada para a captura de Osama Bin Laden – Foto: Wikimedia Commons
Ele ainda aponta outros dois elementos que acabaram por balizar a sociedade e a política americanas: “Houve também uma ampliação muito significativa do aparato de vigilância e de informação, o que levou a algumas violações importantes em termos de liberdades civis nos Estados Unidos e, evidentemente, no mundo. Espionagens e violações de dados pessoais foram justificadas como importantes para a guerra ao terror. E um outro subproduto do 11 de Setembro é o próprio questionamento da sociedade americana sobre a confiança no governo. Fica muito evidente, depois da intervenção no Iraque, que grande parte da sociedade americana passa a ter uma desconfiança nas instituições governamentais, o que também ajudou no avanço da extrema direita e seu questionamento sistêmico, contra o sistema político e o sistema de governo. Não é o único fator, claro, há outras questões envolvidas, mas esses elementos do 11 de Setembro e seus desdobramentos precisam ser levados em consideração”, avalia Loureiro.
Se os norte-americanos passaram a ter um olho perscrutador sobre suas vidas e ações, se cada carta estranha passou a ser vista como um potencial artefato contendo pós envenenadores, se homens de barba cerrada e tez mais escura pareciam querer mandar o sonho americano pelos ares e se a própria forma de governo – naquela pátria que chama para si a tarefa de ser o bastião da democracia no planeta – ganhou uma série de senões, como o mundo acabou lidando com tudo isso? Com medo, muito medo. Porque os ataques do 11 de Setembro foram, na verdade, um prelúdio a uma onda de terror que engolfou a todos, independentemente da latitude, deixando o mundo sobressaltado. Bombas explodiram na estação de Atocha, em Madri, em um outro cabalístico dia 11, só que de março de 2004, matando 191 pessoas e ferindo mais de 1.500. Em 2 de junho de 2008, a embaixada da Dinamarca no Paquistão foi atingida por um carro-bomba. Em tudo isso, a digital da Al-Qaeda. Ninguém estava mais seguro, em lugar nenhum. O medo, mais do que real, era psicológico. E esse temor demorou muito a passar, mesmo com a morte de Bin Laden e a desidratação de sua rede terrorista. Mas o que sobrou no planeta, afinal de contas, depois que a poeira do 11 de Setembro baixou, os mortos foram contados e os Estados Unidos tascaram no peito, mais uma vez, a estrela de xerife global? O que fazer para manter os alicerces da nossa ideia de civilização e da propalada paz mundial de pé, depois do surgimento, enfraquecimento e recente ressurreição dos terroristas do Estado Islâmico, sucessores ainda mais fanáticos que os da Al-Qaeda? Isso, para não se falar em quatro longos e truculentos anos de Donald Trump na Casa Branca, inspirado pelo avanço da direita e inspirando suas ondulações mundo afora.

Bandeira da Al-Qaeda – Foto: Wikimedia Commons.
Felipe Loureiro, porém, aponta aspectos menos dramáticos nesta guerra ao terror, ainda que não permitam um sono tranquilo. “As intervenções externas lideradas pelos Estados Unidos diminuíram muito a capacidade de grupos terroristas em fazer ataques tão extraordinários como os de 11 de setembro. Ataques aconteceram em Paris, Madri, Londres, mas a combinação de intervenção americana em regiões-chave onde esses grupos atuavam, aliada a um crescente policiamento doméstico e a um aparato de informação e tecnologia, limitou as ações terroristas e ajudou na prevenção”, garante ele. “Isso, evidentemente, não impede ataques do tipo ‘lobo solitário’ e de células independentes, mas como os de 11 de Setembro não serão mais possíveis. No entanto, eles continuam acontecendo em países mais pobres, onde as organizações terroristas acabaram ganhando mais força, maior capilaridade. E uma consequência disso é justamente o surgimento do grupo fundamentalista radical Estado Islâmico. Ele ainda é a maior ameaça para o sistema internacional, atuando em países como Mali, Somália e Níger, além da Ásia Central. O recente atentado no Afeganistão é um exemplo disso. Se no norte do planeta, mais rico, a situação foi controlada, ela piorou nos países do sul global, nos lugares mais pobres”, afirma Loureiro.
Lá se vão 20 anos desde que as torres gêmeas viraram pó e um retrato na parede. E ainda dói. Depois do 11/9, o skyline de Nova York mudou – hoje há um novo WTC ali no sul da ilha, também uma homenagem àquelas torres que vieram abaixo e cuja lembrança concreta é uma porção de ferros retorcidos –, a cidade mudou, os Estados Unidos mudaram. O mundo mudou. Para melhor? Não exatamente. O mundo mudou. Ponto.
Nova York, dia 11 de setembro de 2001, por volta das 8 horas da manhã. Os irmãos documentaristas canadenses Jules e Thomas Naudet começavam mais um dia de filmagens de um documentário sobre um bombeiro iniciante – um probie, como são chamados por lá os calouros na luta contra o fogo – em um quartel do New York Fire Department no sul de Manhattan. Um alarme de vazamento de gás no extremo sul da ilha soou no quartel e lá foram os bombeiros para o local. Jules Naudet foi junto. Nova York, por volta das 8h45. Os bombeiros buscam o tal vazamento de gás, enquanto Jules filma sua ação, quando todos ouvem um som muito alto de avião – que estava voando baixo demais para o que o bom senso e as normas aeronáuticas recomendariam. Instintivamente, o documentarista levanta a câmera e capta a imagem que iria, mais tarde, correr o mundo. O relógio marcava 8h46 e a câmera de Jules Naudet foi a única a registrar o impacto do Boeing do voo 11 da American Airlines, com 76 passageiros e 11 tripulantes, contra a Torre Norte do World Trade Center. Um acidente, alguns puderam pensar. Mas a dúvida – que serviria para acalentar espíritos mais inquietos – foi logo dissipada. Dezessete minutos depois, às 9h03, quando todas as câmeras de TV do mundo já estavam mirando o WTC, o voo 175 da United Airlines, com 51 passageiros e nove tripulantes, explodiu ao entrar bem no meio da Torre Sul. Não, não era um acidente. Até porque, às 9h37, o voo 77 da American Airlines, com 59 pessoas a bordo (53 passageiros e 6 tripulantes) acertava em cheio uma das pontas do Pentágono, nos arredores de Washington. Aviões não caem a esmo no Pentágono, o símbolo do poderio militar americano, nem batem desordenadamente nas torres do WTC, o representante maior da pujança econômica dos Estados Unidos, inaugurado em 1973. Não, não era mesmo um acidente. Não passou nem perto disso. Os Estados Unidos estavam sendo atacados – America under attack, anunciaram freneticamente as chamadas dos telejornais americanos. Em pouco menos de uma hora, os Estados Unidos sofreram o pior ataque da história em seu território, com 2977 mortos – mais do que em Pearl Harbor, na Segunda Guerra. Morreram também os 19 sequestradores suicidas da Al-Qaeda, que planejou com precisão cirúrgica, midiática e alucinada os ataques. Aquele dia, 11 de setembro de 2001, foi o dia em que a Terra parou. E quando voltou a girar, o mundo estava se preparando para ser outro, bem diferente daquele que começou como um dia qualquer de fim de verão no Hemisfério Norte, com um céu azul nova-iorquino que em nada poderia antecipar o que aconteceria. O mundo – e não só os Estados Unidos – foi colocado a fórceps no século 21, com todas as consequências que viriam. Duas décadas depois, o que ficou do 11 de setembro? O dia se tornou mítico e as cenas das duas torres ruindo, também. Todo mundo com idade suficiente para entender o que estava acontecendo e que ouviu pelo rádio, viu pela TV, acompanhou pela internet ou leu nos jornais sabe o que estava fazendo naquele dia, naquela hora. E sabe o que sentiu. O Jornal da USP, ainda em sua versão impressa, colocou na capa: “O horror que veio do céu”. Na matéria principal a respeito do ataque, titulou: “A maçã no escuro”, uma simbiose entre um título poético de livro de Clarice Lispector e o terror de fumaça, fogo e poeira que veio do ataque e da queda das torres gêmeas, uma das principais marcas do skyline de Nova York, daquela Grande Maçã – a Big Apple – que a música diz que nunca dorme. E que depois daquele dia, demorou muito para pregar os olhos com tranquilidade outra vez. E que mundo surgiu no dia 12 de setembro de 2001 e viveu todos esses anos? “Com a extinção da União Soviética e o final da Guerra Fria, a década de 1990 representou um fortalecimento do multilateralismo e da cooperação internacional, com clara hegemonia norte-americana. O atentado de 2001, em 11 de setembro, acarretou o enfraquecimento desse movimento e o advento de um quadro de fragmentação na política internacional, que segue nos tempos atuais”, avalia o professor Pedro Dallari, do Instituto de Relações Internacionais da USP (IRI-USP) e colunista da Rádio USP. Muito dessa fragmentação à qual se refere o professor Dallari se deve à ação de retaliação que o então presidente George W. Bush empreendeu mundo afora após os atentados. Pego de surpresa com um livro infantil nas mãos – ele visitava uma escola na hora dos ataques –, Bush ficou alguns segundos com o olhar perdido e com um ar mais perplexo do que de costume. Quando voltou a si, resolveu começar a caça às bruxas – ou ao terror, representado pela Al-Qaeda e seu líder, Osama Bin Laden, e a todos que minimamente pudessem ter algo a ver com aquele horror todo. E foi atrás dos suspeitos de sempre: Saddam Hussein, o todo-poderoso governante do Iraque e inimigo mundial número um – disputando o posto com Khadafi, da Líbia – e o Afeganistão, dos extremistas talibãs. Saddam teria armas de destruição em massa escondidas em alguma duna de areia no deserto iraquiano. E os afegãos davam guarida a Bin-Laden e seus homens-bombas. Deu no que deu. Saddam foi derrubado em 2003, depois da invasão americana, e enforcado em 2006 e o Iraque virou uma armadilha explosiva da qual os Estados Unidos penaram para se livrar. E, claro, não havia nenhuma arma de destruição em massa. E o Afeganistão…bem, o Afeganistão, vinte anos depois, está de volta às mãos do Talibã, com os Estados Unidos tentando dizer que a partida terminou empatada. Já Osama Bin Laden demorou para ser pego. O grande artífice dos ataques aos Estados Unidos e seus símbolos mais perenes – havia um quarto avião, o voo 93 da United, que, acredita-se, deveria cair sobre o Capitólio, o símbolo político, e foi derrubado pelos passageiros – só foi morto por forças especiais americanas em maio de 2011, já no governo do sucessor de Bush, Barak Obama. E no Paquistão. As torres haviam caído havia quase dez anos, e tudo já era parte da história. Mas uma história em moto-contínuo. O professor Felipe Loureiro, também do IRI e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, da USP, segue no mesmo diapasão de Pedro Dallari. Para ele, houve, após o 11/9, uma fragilização de um dos organismos internacionais mais importantes para garantir a paz e a cooperação mundial – a Organização das Nações Unidas. “A fragilização da ONU é um produto da guerra ao terror, principalmente depois da intervenção americana ao Iraque, que acontece com seu aval. E isso acabou tendo efeito na capacidade da ONU em atuar em outras crises internacionais, como a crise na Líbia e a guerra civil na Síria. Há um conjunto de elementos, mas me parece que o início simbólico desse processo foi exatamente a intervenção no Iraque, a despeito de o Conselho de Segurança da ONU não ter aprovado explicitamente essa ação”, acredita Loureiro. Divisor de águas “Os ataques de 11 de setembro foram um claro divisor de águas nas relações internacionais. Os Estados Unidos, vistos quase como onipotentes no sistema internacional, mostraram uma fragilidade na sua segurança interna. E devido a um ator que poucos poderiam imaginar que seria capaz de fazer o que fez. Então, em um primeiro ponto, os Estados Unidos, mesmo sendo ainda a grande e única potência global, mostram uma fragilidade inédita aos olhos do mundo”, afirma o professor Felipe Loureiro, do IRI. “Já a reação americana aos ataques é a de uma superpotência que se considera capaz de moldar, de uma maneira quase que ampla e total, o sistema internacional. É uma reação bastante significativa e com uma perspectiva de guerra ilimitada ao terror, com os Estados Unidos ainda querendo demonstrar sua onipotência”, destaca ele. Mas o que essas e outras ações representaram, ao longo dessas duas décadas? Os Estados Unidos e o mundo como um todo foram se moldando à nova realidade, às novas perspectivas, a uma nova história que estava sendo escrita. “No caso dos Estados Unidos, a forma como o país respondeu aos ataques terroristas acabou ajudando a ampliar uma xenofobia dentro da sociedade norte-americana. Principalmente focada contra árabes, não necessariamente islâmicos, e comunidades islâmicas, não necessariamente árabes. Essa xenofobia é importante para entendermos o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos. Não é o único elemento, mas deve ser considerado importante nesse avanço extremista nos Estados Unidos. O próprio presidente Obama, em sua primeira eleição, foi muito atacado por sua suposta ascendência árabe. E é uma xenofobia que parte de uma perspectiva muito simplista de se entender as comunidades árabes e islâmicas, totalizando o radicalismo”, afirma Loureiro. Ele ainda aponta outros dois elementos que acabaram por balizar a sociedade e a política americanas: “Houve também uma ampliação muito significativa do aparato de vigilância e de informação, o que levou a algumas violações importantes em termos de liberdades civis nos Estados Unidos e, evidentemente, no mundo. Espionagens e violações de dados pessoais foram justificadas como importantes para a guerra ao terror. E um outro subproduto do 11 de setembro é o próprio questionamento da sociedade americana sobre a confiança no governo. Fica muito evidente, depois da intervenção no Iraque, que grande parte da sociedade americana passa a ter uma desconfiança nas instituições governamentais, o que também ajudou no avanço da extrema-direita e seu questionamento sistêmico, contra o sistema político e o sistema de governo. Não é o único fator, claro, há outras questões envolvidas, mas esses elementos do 11 de setembro e seus desdobramentos precisam ser levados em consideração”, avalia Loureiro. Se os norte-americanos passaram a ter um olho perscrutador sobre suas vidas e ações, se cada carta estranha passou a ser vista como um potencial artefato contendo pós envenenadores, se homens de barba cerrada e tez mais escura pareciam querer mandar o sonho americano pelos ares e se a própria forma de governo – naquela pátria que chama para si a tarefa de ser o bastião da democracia no planeta – ganhou uma série de senões, como o mundo acabou lidando com tudo isso? Com medo, muito medo. Porque os ataques do 11 de setembro foram, na verdade, um prelúdio a uma onda de terror que engolfou a todos, independentemente da latitude, deixando o mundo sobressaltado. Bombas explodiram na estação de Atocha, em Madri, em um outro cabalístico dia 11, só que de março de 2004, matando 191 pessoas e ferindo mais de 1.500. Em 2 de junho de 2008, a embaixada da Dinamarca no Paquistão foi atingida por um carro bomba. Em tudo isso, a digital da Al-Qaeda. Ninguém estava mais seguro, em lugar nenhum, O medo, mais do que real, era psicológico. E esse temor demorou muito a passar, mesmo com a morte de Bin Laden e a desidratação de sua rede terrorista. Mas o que sobrou no planeta, afinal de contas, depois que a poeira do 11 de setembro baixou, os mortos foram contados e os Estados Unidos tascaram no peito, mais uma vez, a estrela de xerife global? O que fazer para manter os alicerces da nossa ideia de civilização e da propalada paz mundial de pé, depois do surgimento, enfraquecimento e recente ressurreição dos terroristas do Estado Islâmico, sucessores ainda mais fanáticos que os da Al-Qaeda? Isso, para não se falar em quatro longos e truculentos anos de Donald Trump na Casa Branca, inspirado pelo avanço da direita e inspirando suas ondulações mundo afora. Felipe Loureiro, porém, aponta aspectos menos dramáticos nesta guerra ao terror, ainda que não permitam um sono tranquilo. “As intervenções externas lideradas pelos Estados Unidos diminuíram muito a capacidade de grupos terroristas em fazer ataques tão extraordinários como os de 11 de setembro. Ataques aconteceram em Paris, Madri, Londres, mas a combinação de intervenção americana em regiões-chave onde esses grupos atuavam, aliado a um crescente policiamento doméstico e a um aparato de informação e tecnologia limitaram as ações terroristas e ajudaram na prevenção”, garante ele. “Isso, evidentemente, não impede ataques do tipo ‘lobo solitário’ e de células independentes, mas como os de 11 de setembro não serão mais possíveis. No entanto, eles continuam acontecendo em países mais pobres, onde as organizações terroristas acabaram ganhando mais força, maior capilaridade. E uma consequência disso é justamente o surgimento do grupo fundamentalista radical Estado Islâmico. Ele ainda é a maior ameaça para o sistema internacional, atuando em países como Mali, Somália, Níger, além da Ásia Central. O recente atentado no Afeganistão é um exemplo disso. Se no norte do planeta, mais rico, a situação foi controlada, ela piorou nos países do sul global, nos lugares mais pobres”, afirma Loureiro.. Lá se vão vinte anos desde que as Torres Gêmeas viraram pó e um retrato na parede. E ainda dói. Depois do 11/9, o skyline de Nova York mudou – hoje há um novo WTC ali no sul da ilha, também uma homenagem àquelas torres que vieram abaixo e cuja lembrança concreta é uma porção de ferros retorcidos –, a cidade mudou, os Estados Unidos mudaram. O mundo mudou. Para melhor? Não exatamente. O mundo mudou. Ponto.
Fonte: Jornal USP