- André Biernath
- Da BBC News Brasil em Londres
- Sábado, 29 de outubro de 2022
O engenheiro Thiago Brasileiro, de 43 anos, e a influenciadora digital Lucilene de Lima, de 41, possuem histórias de vida que são, ao mesmo tempo, parecidas e diferentes.
Ambos foram diagnosticados com leucemia mieloide crônica, um tipo de câncer que afeta a medula óssea — aquele “tutano” que temos no interior dos ossos e é responsável por fabricar as células do sangue, como as hemácias e os leucócitos.
Em 2017, Brasileiro começou a sentir uma dor no abdômen e um cansaço muito grande. Ele foi então a um hospital em Belo Horizonte, cidade onde mora. Lá, rapidamente recebeu o diagnóstico e o tratamento.
“Assim que a biópsia definiu o tipo de tumor, os médicos prescreveram uma das três quimioterapias orais disponíveis e, em cerca de 10 dias, eu já estava com o remédio em mãos”, relata.
Lima, por outro lado, demorou quase um mês para buscar o pronto-socorro desde o início dos sintomas que experimentou, como o aparecimento de manchas na pele e um emagrecimento rápido.
Quando finalmente marcou uma consulta, a moradora de Diadema, na Grande São Paulo, passou por três unidades de saúde diferentes antes de saber qual era a verdadeira origem daqueles incômodos.
“A investigação médica começou em dezembro de 2012 e só fui iniciar o tratamento em abril de 2013. Foram quatro meses de espera”, lembra.
Mas qual a diferença fundamental entre os dois? Brasileiro tem convênio médico e realiza todo o acompanhamento em clínicas e hospitais privados. Lima não possui esse tipo de seguro e depende do Sistema Único de Saúde (SUS) para lidar com a enfermidade.
Além da demora para ter o primeiro acesso aos fármacos, Lima aponta a dificuldade de recebê-los todo mês — o tratamento da leucemia mieloide crônica costuma ser feito com um entre três quimioterápicos disponíveis (imatinibe, dasatinibe e nilotinibe), administrados por meio da ingestão diária de comprimidos.
“Com o passar do tempo, você cria laços com outros pacientes. Recentemente, me contaram que os remédios estavam faltando na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Pará, no Rio Grande do Norte…”, lista.
“Só no ano passado, eu mesma fiquei sem receber a dose certa em julho, agosto, setembro, outubro e dezembro”, complementa.
Lima afirma não ter condições de custear o tratamento, cujo preço varia entre R$ 12 mil e R$ 18 mil por mês. “Uma vez ou outra, até dá pra se virar e pedir ajuda financeira para alguém próximo”, diz.
“Mas, às vezes, precisamos recorrer aos familiares de um paciente que acabou de morrer para que eles doem a medicação que sobrou.”
Brasileiro, que coordena grupos de pacientes na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), também afirma lidar com relatos do tipo com mais frequência do que gostaria.
“Não existe câncer público e câncer privado. Por que o tratamento é tão diferente no SUS?”, questiona.

Imbróglio profundo
Histórias como a de Brasileiro e Lima são um retrato do que acontece todos os dias com pessoas diagnosticadas com câncer, a segunda principal causa de morte no país, atrás apenas das doenças cardiovasculares.
Segundo alguns pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil, é possível observar um enorme descompasso entre o que existe de mais moderno e eficiente para tratar os tumores e aquilo que é oferecido de fato nas unidades de oncologia.
“Existe um abismo. Essa é uma das expressões mais concretas das desigualdades de saúde no Brasil”, constata a médica Lígia Bahia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Esse “buraco”, aliás, se ampliou ainda mais na última década. Nesse período, foram lançadas drogas que revolucionaram o setor e são capazes de aumentar a sobrevida ou até curar os pacientes. No entanto, elas são muito caras — não raro, custam uma pequena fortuna por mês.
“Para ter ideia, mais de 95% dos medicamentos oncológicos aprovados para uso no país nos últimos dez anos não estão disponíveis no SUS”, calcula o oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer.
Como medicamento chega ao paciente
Para entender direitinho esse assunto, porém, é preciso dar um passo para trás e explicar como uma nova medicação chega (ou deveria chegar) a quem mais precisa dela.
Vamos supor que o medicamento X apresentou ótimos resultados contra o câncer de mama.
A farmacêutica responsável por aquela molécula precisa entrar com um pedido de aprovação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Os técnicos da instituição avaliam o dossiê de evidências e tomam uma decisão. Se os dados forem suficientemente bons, o remédio está liberado para venda e prescrição no Brasil.
“Esse ‘ok’ da Anvisa significa que o fármaco está autorizado para ser vendido no país, mas ele não precisa ser necessariamente coberto pelos planos de saúde ou disponibilizado no SUS”, diferencia a psicóloga Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia.
Essa incorporação pelos sistemas público ou privado só acontece após uma nova rodada de análises. Só que aqui o processo se bifurca em duas instâncias diferentes, ambas vinculadas ao Ministério da Saúde.
Quem é responsável por determinar se o novo tratamento deve fazer parte dos pacotes de serviços obrigatórios dos convênios é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
Agora, quem bate o martelo sobre a adoção daquilo no SUS é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec.
E aqui as diferenças começam a ficar mais aparentes: por uma série de razões, muitas coisas aprovadas pela ANS não recebem o sinal verde da Conitec.
“Como que existem possibilidades de tratamento tão diferentes dentro de um mesmo país? Esse é um exemplo de como as desigualdades do nosso sistema de saúde estão naturalizadas”, observa Bahia.
Pra piorar, nem tudo que ganha uma sinalização positiva da Conitec chega efetivamente aos pacientes que poderiam se beneficiar com aquilo.
“Pela lei, a nova opção terapêutica aprovada pela comissão deveria estar à disposição dos pacientes em 180 dias. Mas não é isso que acontece”, denuncia Holtz.
A história de um remédio
Para ilustrar esse descompasso entre a decisão técnica e a prática clínica, o oncogeneticista Bruno Filardi, colaborador do Serviço de Genética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior paulista, cita como exemplo um medicamento chamado gefitinibe.
Após passar por todo o processo burocrático citado nos parágrafos anteriores, esse fármaco recebeu no final de 2013 a aprovação da Conitec como tratamento principal para um tipo de câncer de pulmão em estágio mais avançado ou metastático (quando a doença se espalhou para outros órgãos), em que ocorre uma mutação genética chamada EGFR.
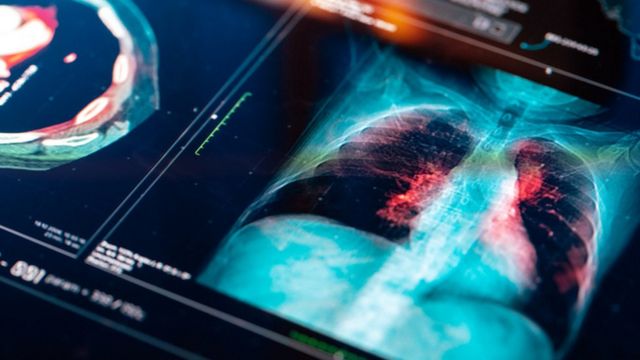
“Os estudos mostraram que o paciente que faz esse tratamento tem um benefício enorme em termos de sobrevida”, resume o médico.
“Além disso, as análises de farmacoeconomia mostraram que oferecer comprimidos de gefitinibe sairia mais barato na comparação com o tratamento anterior, feito a partir da quimioterapia injetável”, completa.
Mas aí vem o problema: o valor mensal por paciente pago pelo SUS para os hospitais que tratam esse câncer de pulmão não foi alterado até hoje.
Na prática, as instituições recebem R$ 1.100,00 por mês por paciente. Mas o custo mensal do gefitinibe está na casa dos R$ 4 mil.
Ou seja: a conta simplesmente não fecha.
Com isso, muitos hospitais optam por continuar a oferecer o tratamento antigo (a quimioterapia), já que ele se encaixa no orçamento, mesmo que seja menos efetivo, leve a uma expectativa de vida menor e, no final das contas, custe mais para todo o sistema.
Isso porque o paciente que faz a químio geralmente tem mais recaídas, precisa de internação, cuidados com os efeitos colaterais… E todos esses procedimentos extras acabam saindo mais caro no final das contas.Ou seja: a quimioterapia sozinha pode até sair mais barata na comparação com o gefitinibe. Mas , além de um efeito pior, ela acarreta em tantas outras coisas que acaba custando mais no final de todo o processo.
Vale mencionar que essa diferença de valores entre o que a tabela do SUS estipula e o preço real do tratamento acontece em vários outros tumores.
O médico Denizar Vianna, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), diz que essas diferenças têm a ver com a forma como a rede pública de saúde é financiada e depende de aportes do Governo Federal, dos Estados e dos municípios.
“A União estipula um valor que será pago por paciente e entende que Estados e municípios devem inteirar o restante”, contextualiza o especialista, que também foi secretário do Ministério da Saúde e ajudou na elaboração do plano de governo de Ciro Gomes (PDT) e fez sugestões à chapa Lula/Alckmin (PT/PSB).
“Mas isso gera uma iniquidade muito grande, já que alguns Estados, como São Paulo, têm muito recurso e conseguem fazer esse complemento, o que permite o acesso aos tratamentos mais modernos nesses lugares. Enquanto isso, outros não possuem essa mesma capacidade”, compara.
‘Meu SUS é diferente do seu’
Holtz também chama a atenção para falta de padronização nos protocolos de tratamento contra o câncer na rede pública.
Esse, aliás, foi tema de uma pesquisa que ela publicou em 2017, em parceria com outros colegas.
Intitulado de “Meu SUS é diferente do seu SUS”, o projeto analisou como é o tratamento contra os quatro tipos de câncer mais incidentes na população brasileira: os tumores de pulmão, mama, próstata e colorretal.
Foram comparados 52 centros oncológicos. Desses, 18 sequer tinham protocolos terapêuticos para essas doenças.
Entre aqueles que possuíam alguma diretriz, 16 unidades ofereciam um tratamento contra o câncer de pulmão inferior ao sugerido pelo próprio Ministério da Saúde. O mesmo cenário se repetiu em oito centros que lidavam com tumores de mama.
Vale citar que também foram observados centros que possuíam um padrão terapêutico superior ao preconizado pelo Governo Federal.
Essa heterogeneidade foi vista como um grande empecilho pelos pesquisadores.
“A equidade é um dos princípios do SUS, mas o que vemos na prática é que cada centro faz aquilo que bem entende”, critica a psicóloga.
“Muitas vezes, é o CEP [Código de Endereçamento Postal] da sua casa que vai definir se você vai ter acesso ao melhor tratamento contra o câncer ou não”, resume.
Em outras palavras, se você tiver a sorte de ser encaminhado para um centro de referência — como o Instituto Nacional do Câncer (Inca) e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) — pode conseguir acesso a tratamentos mais modernos, enquanto outros brasileiros não terão a mesma oportunidade.

‘Não podemos assumir que o Brasil funciona na média’
Para o médico Nelson Teich, que foi ministro da Saúde entre abril e maio de 2020, no governo de Jair Bolsonaro (PL), é muito complicado comparar o que acontece com os pacientes com câncer que dependem da saúde pública ou privada no Brasil atualmente.
E isso tem a ver com a falta de indicadores que ajudem a entender a real situação do país — ou, preferencialmente, das macrorregiões em que o planejamento da saúde deveria ser feito.
“Nós não temos no momento dados de qualidade para fazer esse tipo de avaliação”, constata.
“O Brasil é continental, tem 117 macrorregiões e 5.568 municípios. Falta ao país um grande programa de informações em saúde”, avalia.
Para Teich, esses indicadores sobre o câncer precisam ser divididos em quatro grandes blocos: primeiro, a expectativa de novos casos de cada tumor por ano; segundo, a infra-estrutura necessária para diagnosticar e tratar essa estimativa de pacientes; terceiro, os resultados de desempenho desses serviços; quarto, o financiamento, ou como toda essa estrutura será custeada.
Ainda segundo o especialista, essas análises precisam ser regionalizadas.
“Não podemos assumir que o Brasil funciona na média. Será preciso ter indicadores de cada macrorregião e compará-los com lugares próximos, respeitando a cultura e a economia local”, propõe.
Os planos de saúde também têm falhas
Embora o acesso a certos tratamentos seja relativamente mais fácil para quem tem plano de saúde, isso não quer dizer que todos os convênios são perfeitos e oferecem tudo para os beneficiários, apontam os especialistas.
“O acesso aos tratamentos mais modernos não é igual para todo mundo que tem plano de saúde. Há muitos casos em que apenas os seguros mais caros oferecem essas opções”, destaca Bahia.
Vianna entende que a principal barreira do sistema de saúde privado está na fragmentação dos serviços.
“No SUS, há uma organização determinada, em que a base é a atenção primária. Daí, o paciente só alcança as unidades de atendimento de média e alta complexidade se tiver um encaminhamento para isso”, explica ele.
“Já na rede privada, o acesso aos especialistas é excessivo. A pessoa consegue rapidamente consultar médicos especialistas, sem passar por um clínico geral antes.”
“Isso também não é bom, porque deixa o sistema todo fragmentado. O indivíduo vai num lugar fazer exame, em outra clínica para receber o remédio, num terceiro lugar para a consulta… Com isso, não existe um alinhamento e uma padronização dos cuidados em saúde”, aponta.
A BBC News Brasil procurou o Ministério da Saúde e pediu um posicionamento a respeito dos pontos que foram apresentados pelos especialistas. Nenhuma resposta foi enviada até a publicação desta reportagem.
Como desatar esse nó?
Logicamente, um problema tão complexo como esse depende de uma enorme mudança nas políticas públicas e na forma como o câncer é encarado no país.
Os entrevistados pela BBC News Brasil levantaram uma série de sugestões que podem encurtar as desigualdades na oncologia.
Bahia acredita que o primeiro passo está justamente em reconhecer a existência do problema.
“Precisamos saber que essas coisas acontecem e nos indignar com isso. Não é normal que falte tratamento para algumas pessoas”, diz.
Maluf destaca que o Instituto Vencer o Câncer elaborou uma série de propostas para os candidatos que participaram das eleições de 2022.
“Sugerimos, por exemplo, o aumento de impostos sobre alimentos e bebidas que claramente fazem mal à saúde, a criação de um fundo nacional contra o câncer, a revisão das tabelas de valores do SUS e dos protocolos de tratamento oncológico no país”, lista.
“Não podemos esquecer da prevenção, até mesmo por meio das vacinas. Os imunizantes contra a hepatite B e o HPV, por exemplo, diminuem drasticamente o risco de tumores no fígado e no útero, respectivamente”, acrescenta.
Para Filardi, é preciso descentralizar os serviços de oncologia no país. “Temos várias clínicas que poderiam atender o SUS e resolver muitos problemas localmente.”
O oncogeneticista também acredita que o Brasil deveria ter um programa de incentivo à produção de biossimilares, medicamentos biológicos parecidos aos anticorpos monoclonais “originais” usados contra alguns tumores.
“É relativamente fácil fazer isso e baratear o preço dos fármacos”, detalha.

Holtz entende que seria necessário discutir um orçamento público específico para a oncologia e incentivar a realização de pesquisas clínicas no país, aquelas que testam novos medicamentos.
“Também precisamos estabelecer uma ‘cesta básica padrão’, ou um tratamento mínimo contra os cânceres que seja decente, efetivo e igual para todo mundo”, conclui.
Vianna indica que centralizar no Ministério da Saúde a negociação para obter insumos e medicamentos pode ser vantajoso.
“O ministério tem um grande poder de compra, o que naturalmente representa uma vantagem na hora de negociar os preços”, aponta.
“Essa compra centralizada já acontece para algumas drogas específicas, mas pode ser ampliada”, crê.
Teich entende que, antes de pensar em propostas específicas, é preciso organizar o setor — o que envolve necessariamente a criação de todo um sistema de informações que não existe hoje em dia.
“Além disso, o grande movimento do Brasil para lidar com o câncer tem que envolver o diagnóstico precoce”, propõe o ex-ministro.
A lógica é simples: quanto mais cedo o caso é detectado, maiores a chances de tratá-lo e até curá-lo facilmente, sem a necessidade de tratamentos complexos e custosos.
“Ao diagnosticar a doença num estágio mais avançado, você invariavelmente precisa de medicamentos novos, que trazem um melhor resultado, mas são muito mais caros”, raciocina.
Por fim, muitas das ideias para trazer mais saúde e qualidade de vida para quem tem câncer podem vir dos próprios pacientes, como aqueles que foram citados no início desta reportagem.
Brasileiro acredita que não há solução longe da saúde pública. “Hoje o único caminho é trabalhar, lutar, debater e defender o SUS.”
“Só vamos melhorar quando o paciente virar o centro das atenções e dos cuidados”, acredita.
Já Lima deseja não precisar mais sofrer com a incerteza de receber ou não o tratamento que a mantém viva.
“Eu nunca deixaria acabar as medicações. Ficar sem remédio é praticamente uma sentença de morte para nós”, finaliza.
– Este texto foi publicado em http://bbc.co.uk/portuguese/brasil-63411668
Fonte: BBC Brasil




